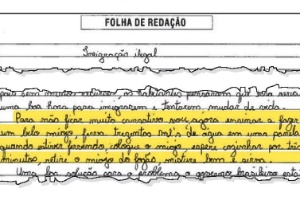De fato, a educação sozinha não pode, nunca pôde, resolver desigualdades socioeconômicas. Há exceções, claro! Vez ou outra, ouvimos, lemos ou presenciamos alguns casos. Nós, professores, sabemos que a escola não consegue nem tem que sanar a fome ou prover a saúde. É, entretanto, no espaço escolar, que todas essas demandas reprimidas ou explícitas gritam urgentemente.
Tampouco a educação restringe-se ao espaço da escola. A educação é um conceito, um conjunto de operações, a articulação de várias dimensões da vida. Já a escola é o espaço onde saberes e vivências devem articular-se para erguer conhecimentos e construir uma formação cidadã.
Qual seria a lógica e a expectativa, portanto, deste funcionamento? Entender que a escola, sendo o espaço promotor, por excelência, da formação integral do cidadão, seja também o laboratório que nos tornaria indivíduos com iguais condições de pensar, trabalhar e sonhar. É isso que se afirma quando se diz que a educação pode resolver nossas desigualdades socioeconômicas. Ou seja, a escola torna-se o espaço metonímico da educação.
Ouvi, na segunda-feira, do jornalista Alexandre Garcia, em suas crônicas matinais no “Bom dia”, uma defesa inconteste da educação pública e laica neste sentido da potência de resolução de desigualdades. Em seu relato, citou a própria experiência no “antigo primário”, em que estudou na mesma sala tanto com o filho de um carroceiro quanto com o filho do maior banqueiro da cidade, para concluir que, embora tivessem entrado em posições desiguais socialmente, saíram “nivelados” pela educação. Não é a primeira vez que o ouço defender enfaticamente a educação escolar pública e laica como o trampolim e o pulo do gato para uma vida digna.
Não é por outra razão que já o vi vociferar contra a indignidade dos salários dos professores, contra a falta de investimento e de qualidade nos cursos de formação para o magistério, contra cotas etc. Não penso que o faça por demagogia ou utopia, penso que creia, por experiência própria, que tais condições sejam uma espécie de divisor de águas entre o que pode ou não uma sociedade, um país. Afinal que país é este que ignora um caminho tão lógico para o desejado progresso mensurado em índices (IDEB, IDH)?
Sua posição de ressalva com relação às cotas fundamenta-se na crença de que uma educação de qualidade e para todos resolveria as enormes e incontestáveis discrepâncias criadas por um passado colonial e, sobretudo, escravocrata. Para ele, as cotas procuram equacionar as distorções fundadoras de nossa sociedade. Essa é uma questão realmente muito delicada. Vejamos: o ministro Joaquim Barbosa, baluarte da dignidade nacional, estudou em escola e universidade públicas sem cotas, mas as defende assim como o ator Lázaro Ramos. Para o cineasta Cacá Diegues, o conceito de raça, no Brasil, é um equívoco. Portanto, todas as políticas daí derivadas incorrem na mesma falácia. Apesar disso, não se coloca contra os sistemas de reserva de cotas na educação e nos editais de cultura.
A partir do momento que se perde de vista a expectativa de uma educação de qualidade para todos, é necessário até mesmo reservar vagas para alunos de escolas públicas, já que elas não têm, grosso modo, cumprido sua função. Penso que tal reserva anula o pressuposto que deveria nortear as organizações sociais. Mas como nos colocarmos contra se não vemos outras iniciativas que possam debelar, na raiz, tais diferenças de oportunidades?
Sou filha de uma escola e de uma universidade públicas ainda de excelência. Acredito ainda hoje nesta excelência. Luto por ela, diariamente, como professora e cidadã. Gostaria que todos tivessem esta experiência radical de convivência com as diferenças, tão-somente a partir das quais podemos construir nossas singularidades.
No meu curso de Letras na UFRJ, havia tanto a filha do diplomata que chegava em carro oficial todos os dias quanto os colegas que vinham de trem, barca, ônibus. Devia haver grupos e guetos. Para mim, só importava o trânsito. Poder estar com todos, escolher com quem estar, ouvir diferentes sotaques e aperceber-me de que o meu não era o mesmo dos meus colegas cariocas da gema. Existe mesmo essa “gema”?
A dimensão escolar pública, quando com igualdades de acesso, leva ao heterogêneo, ao diverso, a uma babel de referências. Não há nada mais salutar do que isso! Nenhum aprendizado democrático se faz sem a alteridade. Então, as conclusões são mais ou menos as seguintes: a escola, para cumprir sua função instrutiva e educadora, deveria ser um polo de investimentos e investigações, um caldeirão, um laboratório, uma escada, um conjunto de janelas, um trampolim para a vida! Nela, a educação deveria levar além e fazer atravessar limites.
(Analice Martins)