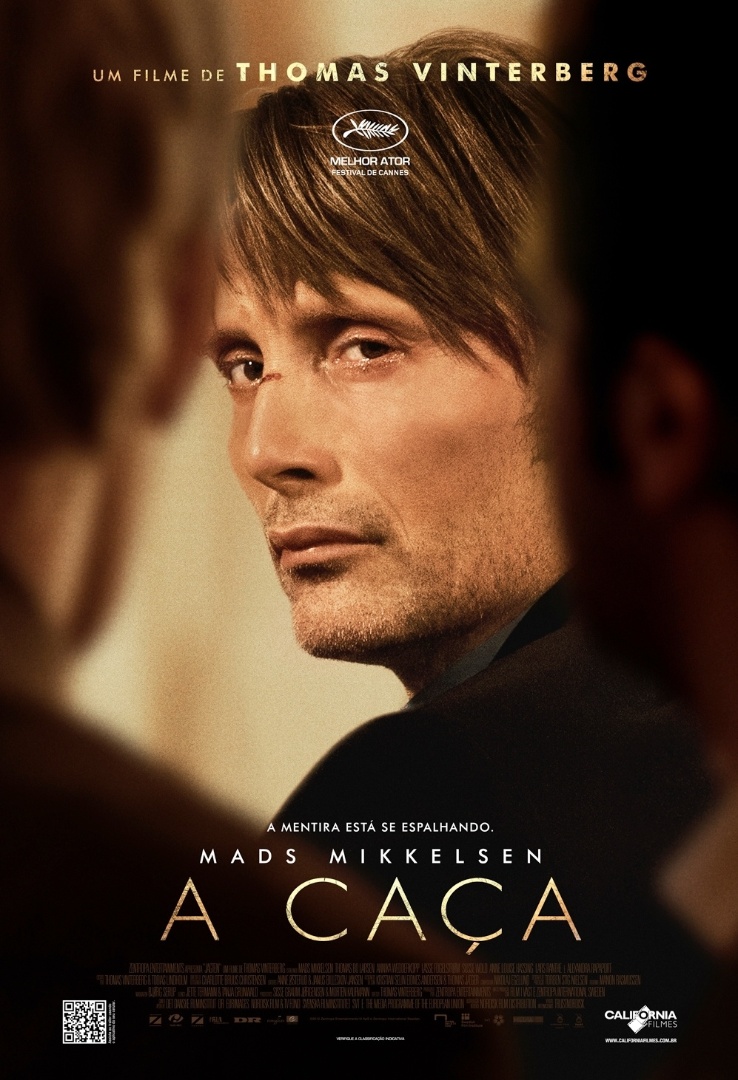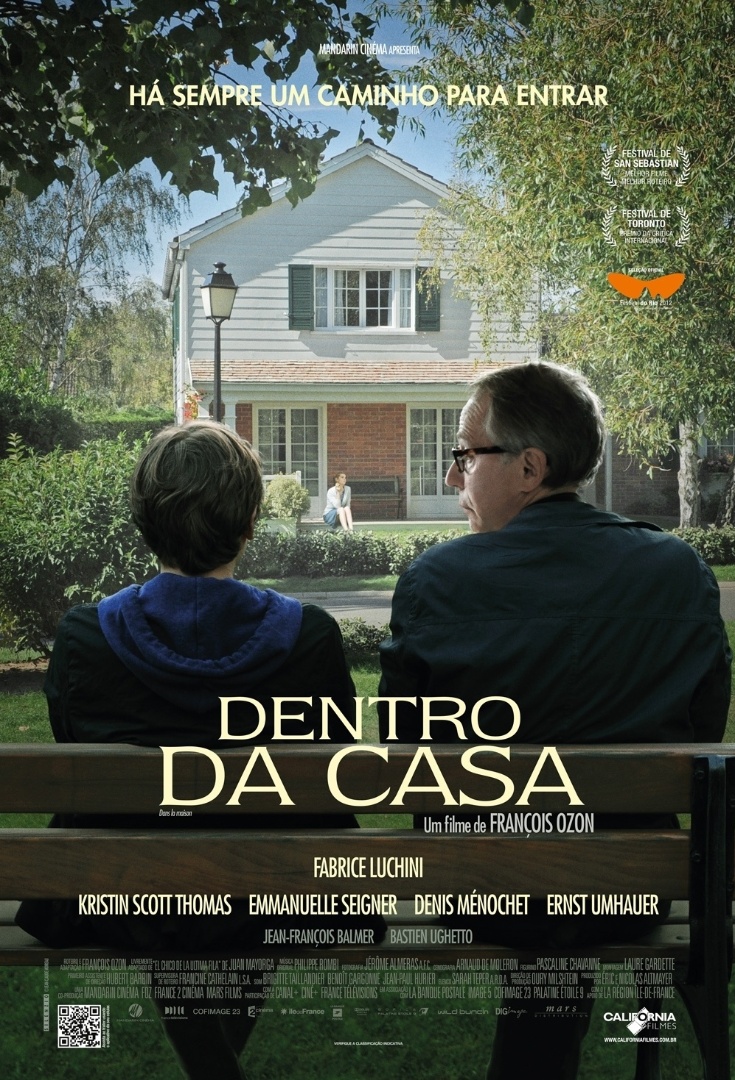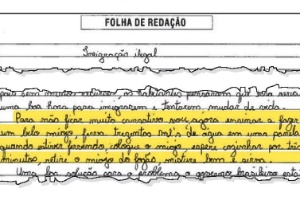Enquanto o Senado francês, em nome da igualdade, faz avançar a tramitação e a regulamentação dos direitos civis dos homossexuais, legalizando a união entre pessoas do mesmo sexo e concedendo-lhes o direito à adoção de filhos, assistimos, no Brasil, por meio da presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, às barbáries da ignorância do deputado Marco Feliciano.
François Hollande, presidente da França, tem sofrido sérias restrições à condução de seu governo, incluindo as contundentes manifestações contrárias ao projeto de lei que outorgará aos casais homossexuais o direito à constituição da família. Centenas de milhares de manifestantes foram e ainda voltarão às ruas para protestar contra o que consideram ilegítimo. Em estados democráticos, a rua e a praça são de todos. Todos têm direito à voz e ao voto. Mas é também, em nome da democracia, que os eleitos, para representar o povo francês na Assembleia Nacional e no Senado, podem levar à frente aquilo que julgam, por maioria, ser o justo: o casamento para todos.
A ministra da Justiça da França, Christiane Taubira, procedente da Guiana Francesa, tem conduzido, com respeito ao incensado princípio “d’égalité”, apregoado desde a Revolução Francesa, e com a destreza típica dos que sabem usar a palavra para esclarecer, assunto tão espinhudo quanto este, o qual, no entanto, resolveu-se com menos contendas em países de tradição também fortemente católica e conservadora, como a Espanha.
Confesso que me espanto em ver, num país, matriz de nosso pensamento ocidental, a marcha de protesto de tantos milhares pelas avenidas de Paris. Mas me espanto mais ainda que o Brasil, onde o mito da cordialidade é fundador, possa ter permitido que chegasse ao poder de uma Comissão tão importante, como a dos Direitos Humanos, alguém tão pouco esclarecido, a quem o debate não compraz. A ignorância, razão de todas as trevas, não pode nem deve nos impingir o silêncio.
Christiane Taubira lembrou, segundo matéria do jornal “O Globo” de 13 de abril, que a “evolução da instituição do casamento é forte portadora da marca de laicidade, igualdade e liberdade do Estado Francês”. Ainda, nesta matéria, havia o depoimento do parlamentar da oposição Philippe Gosselin, um dos mais ferrenhos combatentes do casamento gay, a respeito da capacidade da ministra de debater com lucidez e clareza, estimulando até mesmo a oposição: “Com ela, o debate é mais viril. Enxerga a oposição, afronta a adversidade, aprecia a disputa. Ela gosta de seduzir e convencer. Para ganhar”.
Ora, desde que haja clareza e coerência de ideias, qualquer debate pode ser bem “viril”, roubando a metáfora da força, empregada por Gosselin. Como pensar, no entanto, em debater com quem não se dispõe a ouvir, muito menos a pensar com o outro, a partir da diferença, condição antropológica para o entendimento de nossas identidades? Quem não vê o OUTRO não pode falar em Direitos Humanos, porque já rouba deles o princípio da igualdade.
O cenário francês ainda enfrentará muitas barricadas até o dia 23 deste mês, prazo para votação definitiva pela Assembleia Nacional do referido projeto de lei. A oposição faz um discurso ameaçador, sugerindo que, com tal aprovação, François Hollande partirá para um confronto violento com os franceses.
Em terras tupiniquins, Feliciano desconhece os princípios da argumentação, pois é capaz das mais incompetentes afirmações, beira a leviandade e espanta, dessa forma, qualquer vislumbre de luz que um debate saudável possa acender. Foi assim que, na semana passada, disparou mais um petardo, ofendendo credos e inteligências. Afinal, por que ele parece tão acuado com a possibilidade de reconhecimento dos direitos cidadãos das minorias de gênero? Como perguntou a ministra francesa: “O que o casamento homossexual vai tirar do casamento heterossexual? Nada!”
Acionou, num outro contexto, sua metralhadora cheia de mágoa contra um dos totens da inteligência nacional: Caetano Veloso. Em vídeo no Youtube, afirma que Caetano teria pedido bênção à Mãe Meninha do Gantois para que sua regravação da música “Sozinho”, de Peninha, fizesse o sucesso que de fato fez. Fosse isso, incorreria o deputado em calúnia, já que o próprio Caetano o desmentiu categoricamente, aliás nem precisaria, além de ter atestado sua desinformação, uma vez que a referida ialorixá morreu há mais de 10 anos. Mas ter que ouvi-lo dizer Mãe Meninha do “Patuá” é de doer. “Tais-toi, Feliciano!” Diante de tanta incoerência e ignorância, veio-me à cabeça a imagem da juíza Christiane Taubira, do alto de toda a sua negritude, proferindo esta sentença.
Tenho que confessar que, ainda no plano dos sonhos, fui acometida pela imagem de Caco Antibes gritando “Cala a boca, Magda!”. E, ao fundo, a risadaria em off do plenário. Pena que quem não vê o OUTRO, tampouco possa se ver e menos ainda se importe com essa nossa vingancinha intelectual.
(Analice Martins)